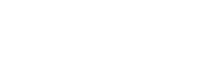As teorias dos autores italianos, fortemente influenciados pelos valores do Estado Liberal do século XIX, tinham nítida influência no positivismo jurídico e na ampla supremacia da lei. Partia-se da premissa que o legislador teria condições de fornecer todas as respostas do direito e ao juiz competia apenas declarar o que constava na lei por meio da aplicação silogística.
Especialmente após a Segunda Guerra foi necessário estabelecer a aplicação da lei com base nos direitos fundamentais inseridos nas mais diversas Constituições Federais.
Contudo, as mudanças na aplicação do direito empreendidas especialmente a partir dos anos 90 com a denominada onda do “pós-positivismo”, “neoconstitucionalismo” ou “hermenêutica constitucional” constataram a notória dificuldade de a lei regular tudo e com precisão (especialmente nos hard cases), somados às novas técnicas de produção legislativa (cláusulas gerais e normas de conceito vago e indeterminado) bem como a complexidade dos fenômenos sociais, a adoção dos princípios como norma, a vinculação aos precedentes e a categorização da jurisprudência como fonte primária do direito, o sistema brasileiro adotou, como forma de atuação judicial no caso concreto, a teoria da criatividade judicial[1].
Ao exercer a atividade criativa como mecanismo de atuação jurisdicional, o magistrado:
a) possui participação mais atuante na concreção da norma individual e concreta, pois não basta a mera aplicação da lei no caso concreto (método subsuntivo). É necessário encontrar uma solução que esteja em conformidade com aquele específico caso concreto objeto de julgamento;
b) procede a uma análise bifronte, pois não apenas analisa o conteúdo da norma em si considerada como (e principalmente) analisa sua incidência sob o enfoque (filtragem) constitucional. Dessa forma, “a Constituição passa a ser, assim, não apenas um sistema em si – com a sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito”[2]. Nesse enfoque deverá proceder à interpretação conforme a Constituição, controle de constitucionalidade e ao sopesamento dos direitos fundamentais[3]; c) para exercer esse desiderato possui em suas mãos uma grande variedade de instrumentos
[1] Como bem observa DIDIER, Fredie, “Os problemas jurídicos não podem ser resolvidos apenas com uma operação dedutiva (geral-particular)”, Curso de direito processual civil, 2014, v. 1, p. 104.
[2] BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed., Saraiva, 2009, p. 341.
[3] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. RT, 2010, p. 91.
[1] SILVA, Michelle Najara Aparecida. Aplicação parametrizada dos precedentes judiciais no conhecimento dos recursos no STJ como técnica de gestão processual voltada para redução dos efeitos da jurisprudência defensiva. RePro, São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 302, p. 343-376, abr. 2020.
[1] Como bem observa DIDIER, Fredie, “Os problemas jurídicos não podem ser resolvidos apenas com uma operação dedutiva (geral-particular)”, Curso de direito processual civil, 2014, v. 1, p. 104.
[1] BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed., Saraiva, 2009, p. 341.
[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. RT, 2010, p. 91.
para aplicação do direito. Ainda sob uma reminiscência do Estado Liberal do século XIX, o CPC/73 defendia a ampla primazia da lei (art. 126) autorizando a aplicação das demais fontes somente no caso de omissão de regra. O atual sistema determina que o juiz se valha de princípios (que não são mais meros mecanismos de supressão de lacunas, mas, bem diferente, integram o sistema ao lado das regras), aliás, Pontes de Miranda, há mais de 40 anos, asseverava que os princípios garantem um grande poder para o exercício da criatividade judicial. Ainda, as cláusulas gerais, normas de conceito vago, precedentes, entre outros. Assim, compete ao Judiciário aplicar, precipuamente, o ordenamento jurídico (CPC, art. 140). A lei deve sempre ser interpretada de acordo com a Constituição Federal. Caso o juiz, por exemplo, encontre mais de uma solução para o caso concreto, deve escolher aquela mais rente ao interesse disciplinado na CF. Assim, se um texto de lei der margem a várias interpretações o juiz não deve valer-se de sua convicção pessoal, mas fazer uso da técnica interpretação de acordo com a CF[1].
A criatividade judicial que constitui uma necessidade à luz de todas as situações acima expostas transfere a legitimidade do criador da norma. Se antes essa condição era praticamente assumida pelo legislador e o magistrado apenas “declarava a lei no caso concreto”, hoje ela é exercida pelo juiz ao criar a norma do caso concreto. O texto é o ponto de partida para se alcançar a norma jurídica, mas esse caminho é fruto da interpretação do juiz.
Contudo é necessário evidenciar, democraticamente, essa legitimidade.
Isso porque o legislativo justifica a criação das leis em decorrência da representatividade do voto popular. Os juízes, contrariamente, não são votados, mas aprovados em concursos de provas e títulos, e essa forma de investidura não possui, evidentemente, a participação popular. Para tanto deve o Poder Judiciário, no processo interpretativo do texto, exercer o amplo contraditório e no resultado desse processo a exauriente fundamentação judicial para prestar contas de sua atividade com a sociedade.
A teoria da criatividade judicial exerce dupla função:
i) regula o caso concreto: o Estado-juiz, no exercício de suas atribuições, cria a norma individual e concreta que estabelecerá o caso levado à sua cognição. Essa norma se diferencia da norma geral e abstrata (regra) pela sua aptidão de imutabilidade;
ii) formação da ratio decidendi: a fundamentação da decisão bem como os motivos que levaram a sua conclusão podem funcionar como precedente (ratio decidendi) para casos futuros e análogos.
A criatividade judicial decorre da inafastabilidade da jurisdição, na medida em que é vedada a proibição do non liquet.
Por fim, uma importante observação.
A criatividade judicial não pode ser confundida com um ativismo desmedido do Poder Judiciário. Especialmente no momento da interpretação da regra (a norma) é importante que nenhum juiz se aproxime do direito positivo como alguém neutro ou puro, pois, como bem observa Sergio Nojiri[2], “a norma jurídica é um objeto cultural, portanto, portadora de valores”, o que vale dizer que o magistrado pode ser influenciado por fatores externos, costumes e valores que carrega de uma vida.
É por isso que Alf Ross bem observa: “O juiz é um ser humano. Por trás da decisão tomada encontra-se toda sua personalidade. Mesmo quando a obediência ao direito (consciência jurídica formal) esteja profundamente enraizada na mente do juiz como postura moral e profissional, ver nesta o único fator ou móvel é aceitar uma ficção. O juiz não é autômato que de forma mecânica transforma regras e fatos em decisões”[3].
A criatividade não quer conferir mais poderes aos juízes, mas conferir responsabilidade para diminuir a denominada “discricionariedade” fazendo um sistema mais coeso e coerente.
[1] É importante diferenciar a interpretação de acordo com a interpretação conforme a Constituição. A primeira, diante de várias interpretações possíveis, o juiz adota aquela que mais se assemelha com o interesse constitucional. A segunda, diante do controle de constitucionalidade, para salvar a norma, no lugar de suprimi-la, impõe-se uma interpretação conforme a CF (uma das interpretações possíveis). (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO. Curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015, v. 1, p. 105).
[2] A interpretação judicial do direito. São Paulo: RT, 2005, p. 164.
[3] Direito e justiça. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2000, p. 168-169.
[1] É importante diferenciar a interpretação de acordo com a interpretação conforme a Constituição. A primeira, diante de várias interpretações possíveis, o juiz adota aquela que mais se assemelha com o interesse constitucional. A segunda, diante do controle de constitucionalidade, para salvar a norma, no lugar de suprimi-la, impõe-se uma interpretação conforme a CF (uma das interpretações possíveis). (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO. Curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015, v. 1, p. 105).
[1] A interpretação judicial do direito. São Paulo: RT, 2005, p. 164.
[1] Direito e justiça. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2000, p. 168-169.