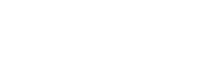A importância da distinção entre fato e direito ganhou maior relevo no sistema atual não apenas pela questão da interposição de recursos especial e extraordinário, mas especialmente pelos institutos de uniformização de direito (IRDR, recursos de estrito direito repetitivos) em que a uniformidade se dá pelas questões de direito. Entretanto, nem sempre é fácil traçar as fronteiras do que é matéria de fato e matéria de direito.
Numa visão geral, a análise cognitiva do magistrado no caso concreto reside em dois pontos: na fixação dos fatose no enquadramento jurídico. Na primeira situação, o magistrado estabelece, ainda que no campo da verdade possível ou verossimilhança (a depender da corrente que se siga sobre a busca da verdade no processo civil), como ocorreram os fatos que deram ensejo àquela demanda. Logo após, numa próxima etapa, já com os fatos concretizados, estabelece o seu enquadramento jurídico. Aqui não se fala em examinar os fatos, mas aplicar o direito adequado.
E, o que se constata da jurisprudência e da doutrina sobre o assunto, é importante verificar qual aspecto deve prevalecer, qual aspecto deve ser dominante: o fático ou o jurídico. Assim, a questão será predominantemente fática se houver necessidade de reexaminar provas ou reavaliar como os fatos teriam ocorrido.
A diferenciação de questões de fato com questões de direito só pode ser tomada dentro de um contexto entre essas duas realidades, o que dificulta sobremaneira a sua cisão: a questão jurídica só tem sentido, no plano da operatividade, quando inserida num contexto fático, e não meramente abstraída como o estudioso que analisa os potenciais direitos existentes in abstrato. Igualmente, os fatos sem a devida roupagem jurídica carecem de importância, pois há fatos que não importam à realidade do direito, como a cortesia, a amizade e a religião[1].
Ademais, as matérias de fato e de direito não podem ser analisadas de maneira isolada, mas sempre de forma relacional. Isso porque determinada matéria pode desempenhar um papel em um processo diferente do que desempenhou em outro. A propriedade é classicamente considerada matéria de direito; era, aliás, o principal exemplo dos defensores da teoria da individualização para a existência (e prevalência) das demandas autodeterminadas. Assim, a propriedade assume a função jurídica numa ação de usucapião, contudo, assume uma posição fática numa ação reivindicatória[2].
A matéria fática é resolvida por meio da prova (e, na falta dela, por meio do ônus probatório). A prova atesta que os argumentos trazidos pela parte (ônus argumentativo) correspondem, ao menos no plano do processo, com a verdade. Ao juiz compete, por meio do seu convencimento motivado, valorar as provas apresentadas e decidir sobre esses fatos apresentados.
As matérias de direito não precisam ser provadas[3], mas, sim, o magistrado faz um exercício de encaixe (subsunção ou criação) enquadrando os fatos sobre o direito aplicável à espécie.
REFLEXÕES SOBRE A ORIENTAÇÃO DO STJ A RESPEITO DOS PEDIDOS IMPLÍCITOS (RENATO MONTANS DE SÁ E RICARDO AMIM ABRÃAO NACLE)
O tema sobre o qual nos debruçamos relaciona-se, sem dúvida, com os primados da segurança jurídica, dispositivo, autonomia da vontade, da proibição da decisão-surpresa, da previsibilidade, da imparcialidade, da boa-fé, da lealdade e da tutela da confiança, todos necessários à construção de uma tutela jurisdicional justa, legítima e efetiva.
A necessidade da certeza e determinação do pedido, com a explicitude da postulação, atende, essencialmente, à necessidade de informar, detalhadamente, ao órgão jurisdicional e à parte contrária, sobretudo, o que o demandante realmente pretende com a demanda, de tal modo a permitir que o réu possa, desde o primeiro momento, mensurar os riscos aos quais ele estará sujeito por força da pretensão contra ele apresentada e a extensão do direito de defesa que exercerá no processo.
Evita-se, de tal modo, as deletérias incertezas processuais e possíveis manobras desleais na postulação, impedindo que o processo se transforme em uma caixa de surpresa para o demandado, o que pode, até mesmo, atrapalhar um possível acordo, na medida em que as partes, sobretudo o demandante, não pode alimentar a perspectiva, fruto de uma possível interpretação sistemática ampliativa, de obter benefício financeiro maior do que o que ele mesmo pediu. Por mais intuitivo que seja tal afirmação, o “réu tem que saber exatamente o que está sendo pedido contra si e quanto ele pode ter que pagar em caso de sentença condenatória”[4].
Como anota Paula Costa e Silva sobre o sistema português, nesse particular aplicável ao nosso contexto processual, em um “sistema de disponibilidade privada sobre o objeto, o tribunal não poderá desrespeitar a vontade da parte, expressa no acto postulativo. É esta quem tem a legitimidade para, em face da situação concreta, determinar o que quer que sejam as consequências de certos factos, vontade que assume a maior relevância sempre que os mesmos factos produzam múltiplos efeitos.”[5]
Autor e réu possuem, sobre o processo, diversas expectativas, mas todas elas devem ser legítimas e fundadas na tutela da confiança. E a postulação, decerto, é a baliza na qual as partes ancoram as suas legítimas expetativas, pelas quais norteiam o seu comportamento durante toda a relação processual e cujos contornos informam as pautas de conduta, em especial, do réu.
Como bem destaca Teresa Arruda Alvim, em uma das suas dimensões, designadamente na subjetiva, a segurança jurídica revela, como bem destaca Teresa Arruda Alvim, “a necessidade de que as pautas de conduta sejam conhecidas, de molde a permitir o planejamento das ações, sem surpresas posteriores.”[6]
Às partes deve-se assegurar, sem surpresas ou ciladas criadas sob as mais diversas finalidades, o cumprimento da matriz normativa com base na qual os litigantes orientaram, desde o princípio, os seus comportamentos, as suas expectativas e dimensionaram os riscos de uma demanda judicial.
E se, de um lado, às partes possuem o direito à tutela da confiança é porque, de outro, compete ao Estado, designadamente ao Poder Judiciário, assegurar que aquele direito seja cumprido. Para tanto, exige-se não apenas das partes, mas como de todos os atores processuais, inclusive o magistrado, uma conduta leal, inspiradora de confiança[7].
A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir, em julgamento de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “a máxima do fair trial”, elemento integrante do devido processo legal, exige, para o pleno funcionamento do modelo garantista de jurisdição, boa-fé e lealdade dos sujeitos participantes do processo, incluídos todos os que integram o aparato indispensável à administração da Justiça, como “condição indispensável para a correção e legitimidade do conjuntos de atos, relações e processos”[8]–[9]
Os deveres de cooperação e boa-fé (artigos 5º e 6º), aliados à proibição da decisão surpresa (artigos 9º e 10) são, na ordem processual vigente, típicos exemplos de normas condutoras da proteção da confiança, sob cujas regras devem agir os sujeitos processuais.
A tutela da confiança, pois, visa a “garantir estabilidade e tranquilidade nas relações jurídicas, tendo como principal objetivo proteger e preservar as expectativas de comportamentos das pessoas em relação ao que resulta de suas ações e no que diz respeito às ações esperadas de terceiros”[10]
Ocorre que, ao que parece, com todo respeito, todas as preocupações aqui externadas não foram fatores preponderantes, não foram razões de decidir para a tomadas das decisões a respeito dos pedidos implícitos, a gerar uma compreensível preocupação às partes, especialmente ao réu.
A interpretação sistemática do pedido, com a possibilidade de ampliação dos chamados pedidos implícitos ou presumidos, se, de um lado, diminui o ônus que pesava sobre o autor, quanto à deduzir o seu pedido com certeza e determinação, com o risco de não ver apreciado por ele omitido, por outro, sobrecarregou o réu, cuja defesa deverá ser exercida com o espectro mais amplo possível, sempre imaginando-se a possibilidade de que de uma alegação posta na inicial, à qual não corresponda um pedido textual, possa resultar um pedido virtual ao qual deverá direcionar a sua impugnação.
O ônus da impugnação específica, pois, foi adensado com a possibilidade de ampliação dos pedidos implícitos ou presumidos, impondo-se ao réu redobrada cautela ao se desincumbir do ônus da defesa.
O cenário ideal, evidentemente, seria aquele em que o autor conseguisse expressar, com precisão, com certeza e determinação, todos os pedidos por ele desejados com a propositura da demanda. Seria igualmente ideal, à nitidez, que caso isso não fosse possível, o magistrado pudesse instar o autor a explicitar todos os pedidos ocultos antes do exercício da defesa ou, ainda, antes de estabilizada a demanda.
Porém, como revela a prática forense e os precedentes sobre a matéria, tal cenário é pouco provável. Aos demandados resta, consequentemente, pautar as suas condutas pelos precedentes existentes sobre a específica matéria e, na dúvida se o pedido está ou não explícito, contestá-lo, tudo para não serem pegos de surpresa por um pronunciamento judicial que acolha um pedido implícito não identificado no momento da defesa e não alertado previamente pelo juízo.
[1] BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. 2ª edição. São Paulo: Malheiros. 2001, p. 9.
[2] MACEDO, Lucas Buril de. Coisa Julgada sobre fato? Análise comparativa com o COLLATERAL estoppel de sua possibilidade de lege lata ou de lege ferenda. In Grandes Temas do NCPC, v. 12. Coisa Julgada e outras estabilidades processuais. Coord. Fredie Didier e Antônio do Passo Cabral. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 390.
[3] Com a honrosa exceção da prova de direito contida nos artigos 376, CPC, e 14 da LINDB.
[4] LUCCA, Rodrigo Ramina de. Disponibilidade processual: a liberdade das partes no processo. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 177.
[5] SILVA, Paula Costa e. Acto e processo: regressando ao dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2019, p. 537.
[6] Modulação na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 35.
[7] Nas palavras de Larissa Gaspar Tunala, quando “E a tutela da confiança significa afastar surpresas no curso da relação jurídica processual, pois surpreender as partes significa perder a fé na administração da justiça.” (Comportamento processual contraditório: a proibição de venire contra factum proprium no direito processual brasileiro. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 156)
[8] RE 464.963, Segunda Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 30-06-2006, p. 35.
[9] No mesmo sentido, DIDIER Jr., Fredie. Princípio da boa-fé processual no direito processual brasileiro e seu fundamento constitucional. In Estudos de direito processual em homenagem a Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. 1ª ed. Rio de Janeiro: GZ, p. 411.
[10] FREIRE, Alexandre. Precedentes judiciais: conceitos, categorias e funcionalidades. In: NUNES, DIERLE; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; JAYME, Fernando Gonzaga (Coord.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 63.