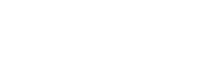A cognição (conhecimento) é ato decorrente de atividade intelectiva (do magistrado, no caso) ao analisar e dar o seu devido valor às alegações sobre os fatos trazidos pelas partes e as provas, bem como em decorrência dos fatos provados (ou não), aplicar o direito ao caso concreto.
A cognição judicial tem um papel extremamente importante dentro do processo, pois: i) é por meio dela que o magistrado conhece dos fatos, produz as provas e diz o direito (jurisdição); ii) é a estrutura do procedimento (criada pelo legislador ou por negócio jurídico) quem vai estabelecer o nível de cognição a ser exercida no julgamento da demanda. Vale dizer, o procedimento é fator de determinação do tipo de cognição que o magistrado vai desenvolver ao longo do processo.
Para isso, é importante enfrentar os modos de cognição existentes.
a) Classificação da cognição
A principal obra sobre o tema é de Kazuo Watanabe[1], que analisa a cognição sob um plano cartesiano:
a1) A ótica horizontal, diz respeito à extensão, amplitude ou o número de matérias possíveis de serem deduzidas e, portanto, apreciadas pelo juiz. Aqui se encontram o denominado trinômio de questões: pressupostos processuais, condições da ação e mérito. Nessa ótica, a cognição pode ser parcial/limitada ou plena.
Será plena quando o magistrado estiver livre para apreciar todas as alegações possíveis das partes sem restrições, como nas ações de conhecimento pelo procedimento comum e nos embargos à execução (art. 917, VI, CPC). Será limitada, contudo, quando, por força de lei (ou negócio jurídico) houver restrições sobre o que o magistrado pode apreciar, como, por exemplo, na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, CPC), na defesa dos embargos de terceiro de credor com garantia real (art. 680, CPC), no inventário quando necessitar de provas não documentais (art. 628, § 2º, CPC), na execução, em decorrência da eficácia abstrata do título executivo (desfecho único) etc.
a2) Na ótica vertical, a questão está relacionada com a profundidade com que o magistrado poderá analisar as questões trazidas. Nessa ótica a cognição poderá ser exauriente ou sumária. Será exauriente, quando o magistrado puder fazer ampla investigação acerca da matéria. Isso ocorre nas ações de conhecimento (novamente) em que, sobre o que foi apresentado, o magistrado terá ampla possibilidade de produzir provas, analisar as questões, realizar nova perícia, determinar o interrogatório das partes etc. A cognição será sumária quando o magistrado não puder se aprofundar de forma completa sobre o tema. Na tutela provisória, o magistrado poderá conceder a tutela fundado num juízo de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), mas não um juízo de certeza, que apenas será concedido com a sentença.
| Importante: I – A cognição sobre tutela provisória é no plano vertical sumária (pois a análise se funda em mera plausibilidade), mas no plano horizontal é plena, pois não há restrições para as análises de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo trazidas pela parte dado o fato da atipicidade das tutelas cautelar e antecipada. II – Há outras ações que demandam classificações diferenciadas como a monitória, em que apenas com a eventual oposição de embargos haverá cognição ampla. Nesse caso, a cognição é eventual. O mesmo ocorre com a estabilização da tutela provisória (art. 304) em que a inércia do réu gera a imunização dos efeitos da tutela concedida. |
| III – Nos recursos a cognição é sempre exauriente, mas parcial já que o recurso se limita a impugnar o que foi decidido (tantum devolutum quantum appellatum)[2]. Contudo, os recursos de fundamentação vinculada (recurso especial, recurso extraordinário e embargos de declaração, são ainda mais limitados, pois apenas versam sobre as situações tipificadas em lei (arts. 102, III e 105, III da CF e art. 1.022, CPC) IV – Não confundir cognição sumária (ligado a atividade de análise) com o procedimento sumaríssimo (ligado à estrutura do procedimento). Os juizados especiais adotam essa nomenclatura por portar causas de menor complexidade (art. 3º, Lei n. 9.099/95) e ser regido, especialmente pela celeridade, informalidade, simplicidade e economia (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). |
[1] Da cognição no processo civil cit.
[2] Com exceção da situação prevista no art. 1.014, CPC: “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
[1] Da cognição no processo civil cit.[1] Com exceção da situação prevista no art. 1.014, CPC: “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
b) Objeto da cognição
A cognição, como dito, é exercida pelo juiz em todo processo. Falar sobre o objeto da cognição é, em último exame, analisar estruturalmente o processo. É essa estrutura que será analisada nesse item:
b1) Trinômio de questões
Os juristas italianos, em meados do século passado, desenvolveram a divisão de conhecimento do juiz baseado em três etapas: os pressupostos processuais, as condições da ação e o mérito[1]. O enfrentamento de cada uma das etapas é condição para chegar a outra: assim, o mérito somente poderá ser analisado se as condições da ação e os pressupostos processuais estiverem devidamente preenchidos.
Evidente que essa divisão foi relativizada ao longo do tempo e deve ser analisada sob a nova dogmática processual. Dessa forma: a) sempre que possível o magistrado tentará regularizar o vício em atenção ao princípio da primazia do mérito e b) o CPC estabelece técnicas que permitem relevar o vício por ausência de prejuízo (arts. 282, §§ 1º e 2º, e 488, CPC;
Há quem defenda no Brasil uma divisão entre apenas pressupostos processuais e mérito como Calmon de Passos, Ovídio Baptista e, mais recentemente, Fredie Didier[2].
b2) Questões prévias e questão principaliter (principal)[3]
Sob outro enfoque a cognição também pode ser dividida em questão prévia e questão principal. A questão principal é a de mérito em que se discute o próprio objeto litigioso principal.
As questões prévias, podem ser de mérito ou processuais, mas são questões (como o próprio nome já identifica) que necessariamente devem ser analisadas antes da questão principal (precedência lógica).
As questões prévias podem ser preliminares ou prejudiciais. A diferença entre elas está no seu grau de influência sobre a questão principal.
Serão preliminares as questões que devem ser logicamente decididas antes da principal. E se a questão preliminar for acolhida, impede o julgamento da principal (exemplo: a falta de um pressuposto processual ou condição da ação, sendo vício insanável, impede o julgamento do mérito). Já as questões prejudiciais são aquelas que devem ser logicamente decididas antes das questões principais. Contudo sua decisão não impede, mas influencia o resultado da questão subordinada (ex., no curso de uma ação de alimentos [questão principal], o réu alega inexistência de paternidade [questão prejudicial]. Essa questão deve ser julgada logicamente antes da principal, pois a verificação do parentesco influenciará no dever dos alimentos).
b3) Questão de fato e questão de direito
Um terceiro e último enfoque que pode se dar à cognição é que as matérias a serem apreciadas pelo juiz podem ser de fato e de direito.
A distinção entre elas é dificílima. Contudo, se não nos ativermos às peculiaridades e ressalvas existentes, questão de fato é aquela que se atém às alegações trazidas pelas partes ou interessados no processo sobre os fatos ocorridos. No caso das partes, a causa de pedir e os fundamentos de defesa. As questões de fato estão na seara do princípio dispositivo, somente podendo a parte ou interessado trazer ao processo (o juiz não pode tomar como verdadeiro um fato não alegado se ele, por exemplo, presenciou o acidente de trânsito que ensejou a causa). As questões de fato dependem de prova (salvo arts. 374 e 376, CPC)
[1] Esse assunto já foi tratado no capítulo sobre ação (condições da ação) e será enfrentado ainda nesse capítulo (pressupostos processuais).
[2] Já havíamos defendido a existência autônoma das condições da ação no item 3.2.4 da parte geral.
[3] Essa questão será mais bem tratada no item 8.5.2.6 do capítulo 8 sobre coisa julgada.
[1] Esse assunto já foi tratado no capítulo sobre ação (condições da ação) e será enfrentado ainda nesse capítulo (pressupostos processuais).
[1] Já havíamos defendido a existência autônoma das condições da ação no item 3.2.4 da parte geral.
[1] Essa questão será mais bem tratada no item 8.5.2.6 do capítulo 8 sobre coisa julgada.
Já a questão de direito é o enquadramento desses fatos no ordenamento jurídico (lei, precedentes, enunciados de súmula etc.).
As questões de direito se enquadram na regra do iura novit curia. Logo, o juiz pode aplicar o direito de ofício ou diverso daquele que a parte apresentou (desde que, evidentemente, exerça o contraditório prévio sobre isso a fim de evitar decisão-surpresa – arts. 9º e 10, CPC). As questões de direito não dependem de prova.
São duas investigações sequenciais: primeiro a investigação sobre os fatos e depois sobre o direito.